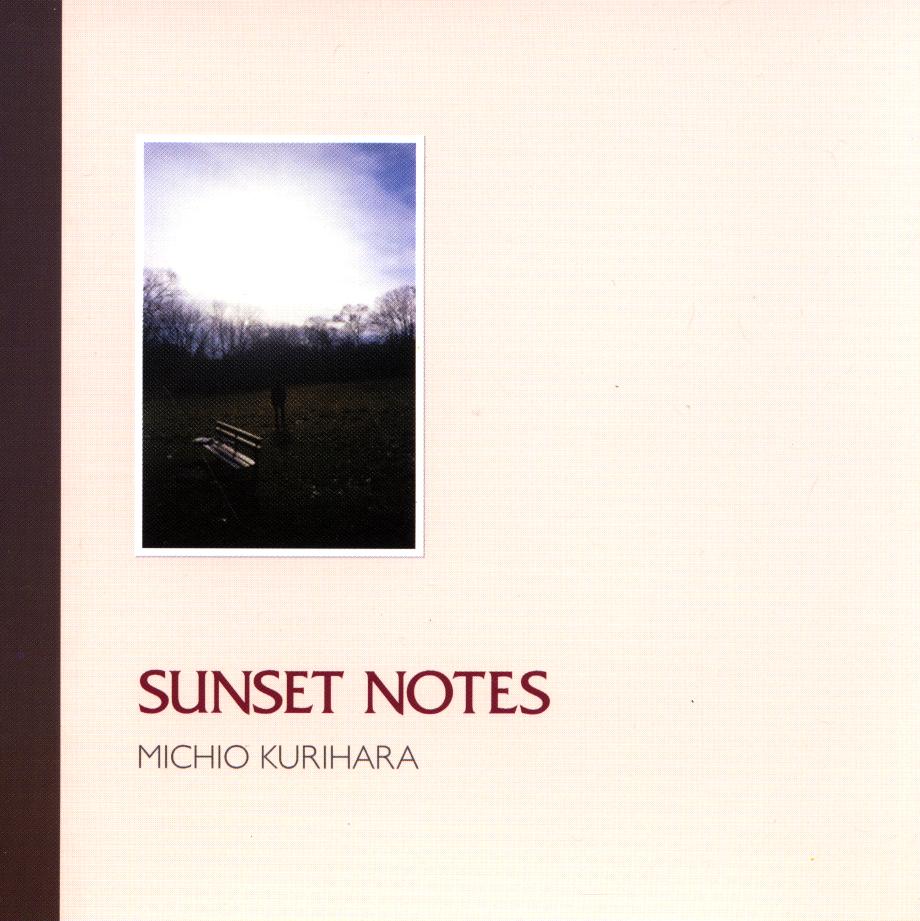Foram as estradas do minimalismo que ali os levaram. John Cale, músico clássico transformado pela electricidade e visceralidade do rock e Terry Riley, músico clássico infectado pelo jazz livre e pelos sons do Oriente, encontraram-se num vértice em 1970. Aí lançaram a primeira pedra na fundação de Church of Anthrax, disco cooperativo que apenas viria a luz do dia passado um ano. E a pedra basilar de Church of Anthrax é a música minimal. Tanto Cale como Riley eram dois dos mais proeminentes seguidores desta corrente, professando ensinamentos derivativos das suas experiências com John Cage ou o fundamental Theatre of Eternal Music, em que militavam igualmente nomes como Tony Conrad ou La Monte Young.
Foram as estradas do minimalismo que ali os levaram. John Cale, músico clássico transformado pela electricidade e visceralidade do rock e Terry Riley, músico clássico infectado pelo jazz livre e pelos sons do Oriente, encontraram-se num vértice em 1970. Aí lançaram a primeira pedra na fundação de Church of Anthrax, disco cooperativo que apenas viria a luz do dia passado um ano. E a pedra basilar de Church of Anthrax é a música minimal. Tanto Cale como Riley eram dois dos mais proeminentes seguidores desta corrente, professando ensinamentos derivativos das suas experiências com John Cage ou o fundamental Theatre of Eternal Music, em que militavam igualmente nomes como Tony Conrad ou La Monte Young.
Após ter sido despedido dos Velvet Underground, John Cale iniciou uma frutuosa carreira a solo, iniciada em 1969 com o excelente e estranhamente acessível Vintage Violence. Terry Riley trazia na bagagem os recentes e imprescindíveis A Rainbow in a Curved Air e In C, duas obras-primas da música de vanguarda dos anos sessenta. A miscelânea de ideias dos dois homens origina um disco que parece ser rock composto por músicos clássicos, bem como música clássica tocada como se fosse rock. O regime minimalista é a única coisa que não arreda pé de Church of Anthrax. Assim como a toada progressista das peças, futuristas na forma, suspensas no tempo em que se desenrolam.
O disco abre com o tema-título, que se ergue em rasgos desiguais de Hammond e saxofone, contrastando com a cadência repetitiva e quase obsessiva do ritmo. À medida que os minutos passam, a intensidade aumenta, numa espiral arrasadora, semelhante ao voo de um insecto confinado a um espaço diminuto. Uma placidez estática instala-se com a chegada do belo The Hall of Mirrors in the Palace at Versailles. Piano e saxofone degladiam-se introspectivamente, mas nunca de costas voltadas. A música parece eterna, sentindo-se a aproximação conceptual às ragas indianas. E o amplo salão de espelhos do Palácio de Versalhes materializa-se perante nós, interminável e majestoso, num magnífico chiaroscuro musical.
The Soul of Patrick Lee constitui o momento mais diletante do álbum. A única canção, vocalizada por um misterioso Adam Miller, cujo timbre é, em muito, idêntico ao de John Cale. Ficará para sempre a dúvida se este Adam Miller não é mais que o próprio Cale em registo aveludado, ou um desconhecido escolhido pela similariedade na voz. A canção, essa, destoa do que vem para trás e do que se seguirá. É um curto interlúdio vocal, no que geralmente costuma ser instrumental. Uma bela melodia, contemplativa e melancólica, que tresanda ao Cale da primeira fase por todos os lados. O disco retoma o seu curso normal com Ides of March, um longo e veemente exercício minimal, tão cerebral como apelativo ao movimento. O feeling jazzístico transborda livremente, tornando esta a peça onde a improvisação é raínha e senhora. The Protegè, quinto e último tema, é, por sua vez, aquele onde o rock mais se ingere. Guitarra, baixo e bateria servem de suporte para um piano destemido e gingão, que nos retira de idílios meditativos e nos devolve às ruas.
Um dos charmes de Church of Anthrax acaba por ser a procura de sintonia, que ora se alcança, ora se esfuma, entre duas almas pouco gémeas mas muito inspiradas. Algures entre o erudito e o vernáculo, é um disco sem falhas, ilustrativo de facetas menos exploradas de dois músicos cujo talento e influência são sobejamente conhecidos.