
Não é de admirar que o mundo não tenha acabado em 2012. O que é de admirar é que houve gente a acreditar nisso. Sinal dos tempos que vivemos, talvez, em que o progresso é acompanhado de obscurantismo. Mas, se a profecia Maia não se cumpriu à letra, muita coisa terá mudado irreversivelmente no mundo como o conhecemos. Especialmente na Velha Europa e, dolorosamente, no rectângulo luso.
Uma amálgama de música encheu o ano, na sua grande maioria indiferenciada. Segue abaixo a listagem do que mais me surpreendeu, prendeu e preencheu. Scott Walker e o seu Bish Bosch podem ser ainda recentes para permitir uma prolongada degustação, mas o choque é suficiente para deixar marcas profundas à primeira audição. Talvez por não haver mais nada nem ninguém a soar assim, talvez por parecermos entregues à bisharada, este disco captura magistralmente o espírito desta época em que estamos condenados a existir. Complexo e perturbador, intenso e sombrio. E a sanidade parece não estar à vista no ano que se aproxima...
1. Scott Walker - Bish Bosch
2. Swans - The Seer
3. Tame Impala - Lonerism
4. Beach House - Bloom
5. Frank Ocean - Channel Orange
6. Grimes - Visions
7. Bill Fay - Life Is People
8. Godspeed You! Black Emperor - 'Allelujah! Don't Bend! Ascend!
9. Fiona Apple - The Idler Wheel Is Wiser Than the Driver of the Screw and Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do
10. The XX - Coexist
11. Chromatics - Kill For Love
12. Grizzly Bear - Shields
13. Liars - WIXIW
14. Julia Holter - Ekstasis
15. Dirty Projectors - Swing Lo Magellan
16. Kendrick Lamar - good kid, m.A.A.d city
17. Laurel Halo - Quarantine
18. The Walkmen - Heaven
19. Sharon Van Etten - Tramp
20. Death Grips - The Money Store
21. Ty Segall Band - Slaughterhouse
22. Bob Dylan - Tempest
23. Jack White - Blunderbuss
24. Actress - R.I.P.
25. Alt-J - An Awesome Wave
26. Cat Power - Sun
27. Django Django - Django Django
28. Toy - Toy
29. Japandroids - Celebration Rock
30. Ariel Pink's Haunted Grafitti - Mature Themes
31. Twin Shadow - Confess
32. Andy Stott - Luxury Problems
33. Dr. John - Locked Down
34. Chairlift - Something
35. Jessie Ware - Devotion
36. Leonard Cohen - Old Ideas
37. Spiritualized - Sweet Heart Sweet Light
38. Cloud Nothings - Attack On Memory
39. Bobby Womack - The Bravest Man In The Universe
40. Sun Araw & M Geddes Gengras meet the Congos – Icon Give Thank
41. Neil Young & Crazy Horse - Psychedelic Pill
42. Mark Lanegan Band - Blues Funeral
43. Flying Lotus - Until The Quiet Comes
44. Alabama Shakes - Boys & Girls
45. Neneh Cherry & The Thing - The Cherry Thing
46. Bat For Lashes - The Haunted Man
47. El-P - Cancer For Cure
48. Carter Tutti Void - Transverse
49. Porcelain Raft - Strange Weekend
50. Gravenhurst - The Ghost In Daylight


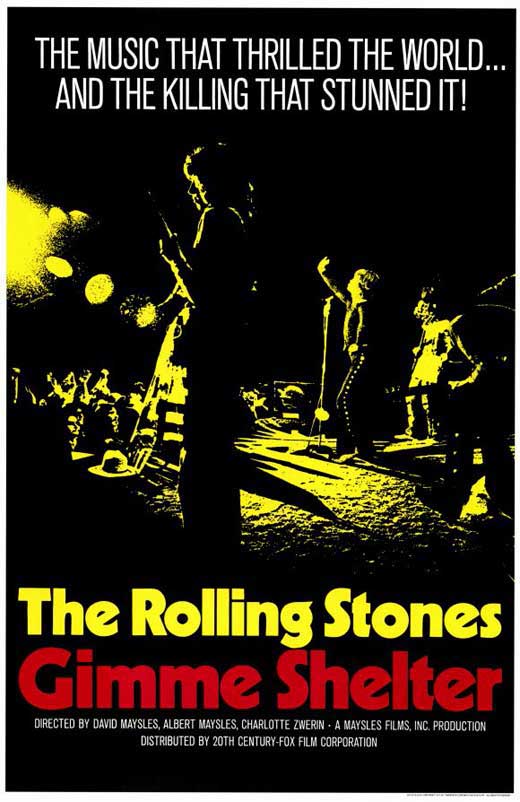




.jpg)
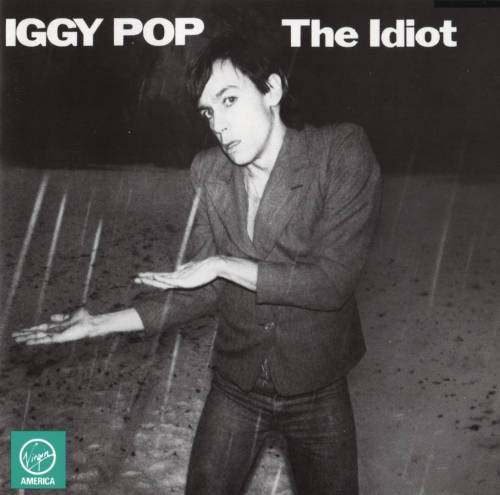
.jpg)















