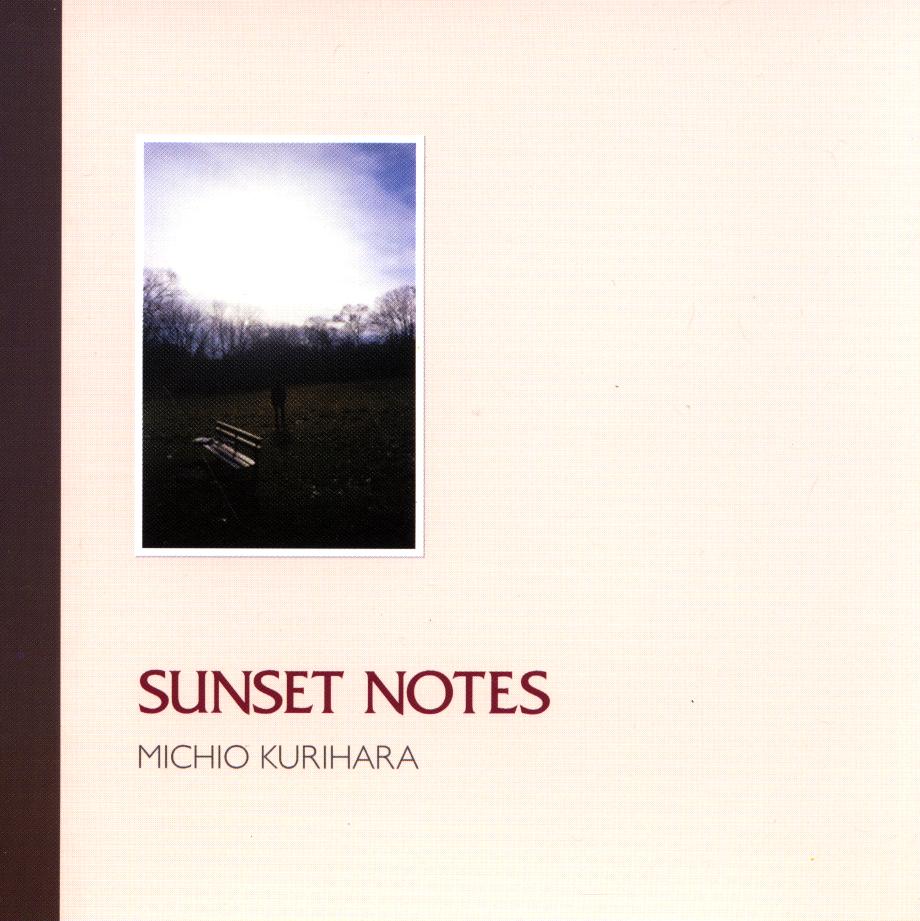1. PJ Harvey - Let England Shake
2. Bon Iver - Bon Iver
3. James Blake - James Blake
4. Tom Waits - Bad As Me
5. The Horrors - Skying
6. The Weeknd - House of Baloons
7. Girls - Father, Son, Holy Ghost
8. Oneohtrix Point Never - Replica
9. The War on Drugs - Slave Ambient
10. St. Vincent - Strange Mercy
11. The Antlers - Burst Apart
12. Shabazz Palaces - Black Up
13. Real Estate - Days
14. Jonathan Wilson - Gentle Spirit
15. tUnE-yArDs - w h o k i l l
16. Destroyer - Kaputt
17. Fleet Foxes - Helplessness Blues
18. Kurt Vile - Smoke Ring For My Halo
19. Paul Simon - So Beautiful Or So What
20. Kate Bush - 50 Words For Snow
21. Josh T. Pearson - Last Of The Country Gentlemen
22. James Ferraro - Far Side Virtual
23. Grouper - A I A (Alien Observer / Dream Loss)
24. Rustie - Glass Swords
25. Radiohead - The King Of Limbs
26. Tim Hecker - Ravedeath, 1972
27. Nicolas Jaar - Space Is Only Noise
28. Wild Beasts - Smother
29. Bill Callahan - Apocalypse
30. Anna Calvi - Anna Calvi
31. The Field - Looping State Of Mind
32. Balam Acab - Wander / Wonder
33. EMA - Past Life Martyred Saints
34. M83 - Hurry Up, We're Dreaming
35. Colin Stetson - New History Warfare Vol. 2: Judges
36. Panda Bear - Tomboy
37. Gang Gang Dance - Eye Contact
38. Björk - Biophilia
39. Thurston Moore - Demolished Thoughts
40. The Black Keys - El Camino
41. Battles - Gloss Drop
42. Drake - Take Care
43. White Denim - D
44. Raphael Saadiq - Stone Rollin'
45. Demdike Stare - Tryptich
46. Frank Ocean - Nostalgia, Ultra
47. Iceage - New Brigade
48. Arbouretum - The Gathering
49. Toro Y Moi - Underneath The Pine
50. Washed Out - Within and Without