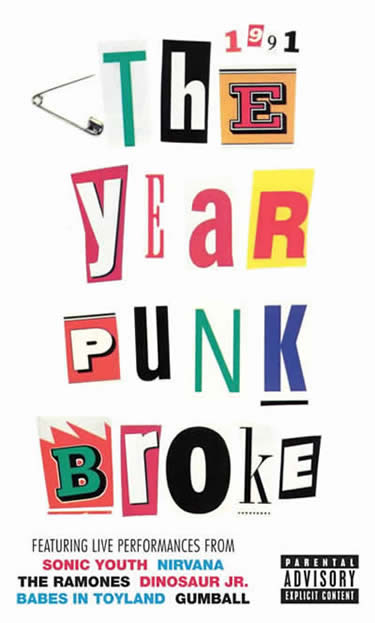Segue abaixo a lista da praxe. Como sempre, a ordem não é rígida, reflectindo apenas a música que mais prazer me deu descobrir e ter como companheira ao longo do ano que agora termina.
1. My Bloody Valentine - MBV
2. Vampire Weekend - Modern Vampires of the City
3. Julia Holter - Loud City Song
4. Arcade Fire - Reflektor
5. Savages - Silence Yourself
6. Daft Punk - Random Access Memories
7. David Bowie - The Next Day
8. Nick Cave & The Bad Seeds - Push the Sky Away
9. The Knife - Shaking the Habitual
10. Kanye West - Yeezus
11. Factory Floor - Factory Floor
12. Laurel Halo - Chance of Rain
13. Oneohtrix Point Never - R Plus Seven
14. The National - Trouble Will Find Me
15. Disclosure - Settle
16. Forest Swords - Engravings
17. James Blake - Overgrown
18. Tim Hecker - Virgins
19. John Grant - Pale Green Ghosts
20. Chvrches - The Bones of What You Believe
21. Boards of Canada - Tomorrow's Harvest
22. Phosphorescent - Muchacho
23. Kurt Vile - Wakin On a Pretty Daze
24. Bill Callahan - Dream River
25. Unknown Mortal Orchestra - II
26. Mikal Cronin - MCII
27. Thee Oh Sees - Floating Coffin
28. Deafheaven - Sunbather
29. These New Puritans - Field of Reeds
30. Roy Harper - Man and Myth
31. Rhye - Woman
32. Arctic Monkeys - AM
33. Queens of the Stone Age - ...Like Clockwork
34. Grumbling Fur - Glynaestra
35. Haim - Days Are Gone
36. Fuck Buttons - Slow Focus
37. Darkside - Psychic
38. Laura Marling - Once I was an Eagle
39. Autre Ne Veut - Anxiety
40. Local Natives - Hummingbird
41. Rashad Becker - Traditional Music of Notional Species Vol. 1
42. Deerhunter - Monomania
43. Jonathan Wilson - Fanfare
44. James Holden - The Inheritors
45. Jon Hopkins - Immunity
46. Sun Kil Moon & The Album Leaf - Perils From the Sea
47. Foxygen - We are the 21st Century Ambassadors of Peace & Magic
48. Dean Blunt - The Redeemer
49. Mutual Benefit - Love's Crushing Diamonds
50. Midlake - Antiphon