Em 2015, Ian "Lemmy" Kilmister passou, definitivamente, ao estatuto de imortal. Perante isso, pouco mais há a assinalar. O Sport Lisboa e Benfica foi campeão pela 34ª vez. E maldito terrorismo. Os discos que alimentaram a minha existência foram muitos e seguem-se os que vieram para ficar.
1 - Julia Holter - Have You in My Wilderness
2 - Jamie XX - In Colour
3 - Sufjan Stevens - Carrie & Lowell
4 - Kendrick Lamar - To Pimp a Butterfly
5 - Grimes - Art Angels
6 - Father John Misty - I Love You, Honeybear
7 - Jim O'Rourke - Simple Songs
8 - Courtney Bartnett - Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit
9 - Björk - Vulnicura
10 - Kamasi Washington - The Epic
11 - New Order - Music Complete
12 - Jlin - Dark Energy
13 - Holly Herndon - Platform
14 - Matana Roberts - Coin Coin Chapter Three: River Run Thee
15 - Kurt Vile - B'lieve I'm Goin Down
16 - Tame Impala - Currents
17 - Oneohtrix Point Never - Garden of Delete
18 - Natalie Prass - Natalie Prass
19 - Beach House - Depression Cherry
20 - Deerhunter - Fading Frontier
21 - Panda Bear - Panda Bear Meets the Grim Reaper
22 - Blur - The Magic Whip
23 - Joanna Newsom - Divers
24 - Miguel - Wildheart
25 - Low - Ones and Sixes
26 - Wilco - Star Wars
27 - Floating Points - Elaenia
28 - Sleaford Mods - Key Markets
29 - Benjamin Clementine - At Least For Now
30 - Donnie Trumpet & The Social Experiment - Surf
31 - James Ferraro - Skid Row
32 - Unknown Mortal Orchestra - Multi-Love
33 - Future - DS2
34 - Sleater-Kinney - No Cities to Love
35 - Arca - Mutant
36 - John Grant - Grey Tickles, Black Pressure
37 - Mbongwana Star - From Kinshasa
38 - Drake - If You're Reading This It's Too Late
39 - Tobias Jesso Jr. - Goon
40 - Viet Cong - Viet Cong
41 - Jenny Hval - Apocalypse, Girl
42 - Vince Staples - Summertime '06
43 - FFS - FFS
44 - Deafheaven - New Bermuda
45 - Ryley Walker - Primrose Green
46 - Destroyer - Poison Season
47 - Bill Fay - Who is the Sender?
48 - Matthew E White - First Blood
49 - Alabama Shakes - Sound & Color
50 - Bob Dylan - Shadows in the Night





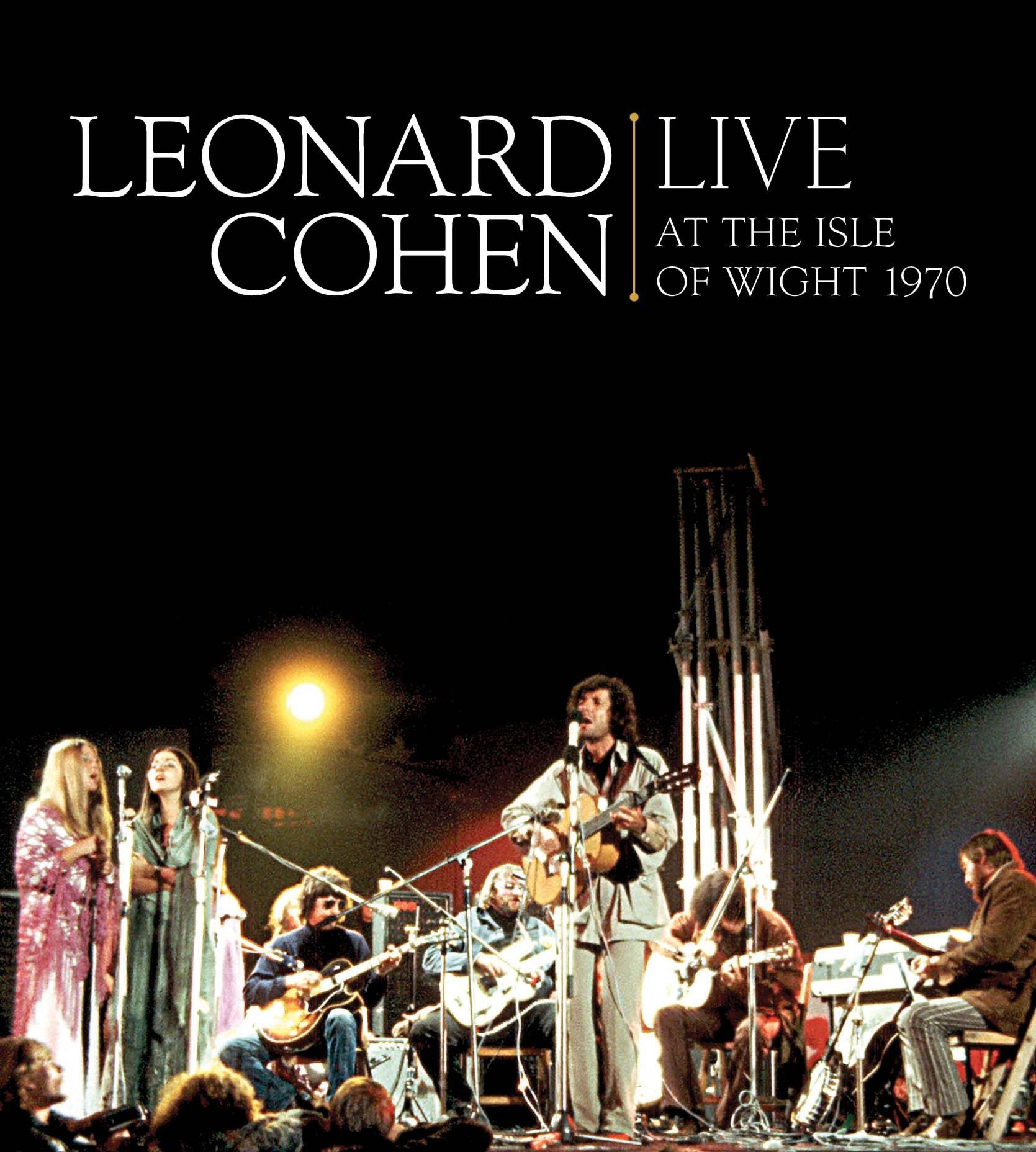
:format(jpeg):mode_rgb():quality(96)/discogs-images/R-2768043-1300147007.jpeg.jpg)

