A música, essa, foi sempre a mesma. Mas também foi outra. Os LCD Soundsystem causaram polémica com um regresso prematuro, mas provaram que James Murphy nunca devia ter desistido da ideia. American Dream é a prova concludente que o projecto nova-iorquino continua a ser uma das máquinas musicais mais interessantes, pertinentes e influentes do século XXI. De saudar igualmente o regresso em belíssima forma dos seminais Slowdive, cujo álbum homónimo constituiu uma das surpresas mais sólidas e agradáveis do ano discográfico. Os National deram um golpe de rins e lançaram-se a mares nunca dantes navegados. O sétimo álbum do grupo é a mais exigente e experimental das suas obras, mas igualmente a mais entranhável e recompensadora. Björk continua a produzir sons que não parecem ser deste mundo, motivo pelo qual os nossos corações devem regozijar-se. Kendrick Lamar assinou um dos melhores discos de Rap que há memória, um trabalho assombroso, ao qual é impossível ficar indiferente e que torna o género ainda mais transversal.
2017 foi, assim, um ano de muita, variada e inspirada oferta musical. A lista que se segue foi a que mais me acompanhou e inspirou.
1. LCD Soundsystem - American Dream
2. The National - Sleep Well Beast
3. Kendrick Lamar - DAMN.
4. The War on Drugs - A Deeper Understanding
5. Slowdive - Slowdive
6. Mount Eerie - A Crow Looked At Me
7. St. Vincent - Masseduction
8. Björk - Utopia
9. Lorde - Melodrama
10. SZA - CTRL
11. Fever Ray - Plunge
12. Arca - Arca
13. Jlin - Black Origami
14. Perfume Genius - No Shape
15. Father John Misty - Pure Comedy
16. Richard Dawson - Peasant
17. Kelela - Take Me Apart
18. Vince Staples - Big Fish Theory
19. King Krule - The OOZ
20. Thundercat - Drunk
21. Brand New - Science Fiction
22. Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex
23. The Magnetic Fields - 50 Song Memoir
24. Sampha - Process
25. Ibeyi - Ash
26. Big Thief - Capacity
27. Moses Sumney - Aromanticism
28. Chino Amobi - Paradiso
29. Juana Molina - Halo
30. The XX - I See You
31. Kaitlyn Aurelia Smith - The Kid
32. Protomartyr - Relatives In Descent
33. Actress - AZD
34. Jane Weaver - Modern Kosmology
35. Robert Plant - Carry Fire
36. Laurel Halo - Dust
37. Fleet Foxes - Crack-Up
38. Alvvays - Antisocialites
39. Queens of the Stone Age - Villains
40. Do Make Say Think - Stubborn Persistent Illusions
41. Circuit des Yeux - Reaching For Indigo
42. Laura Marling - Semper Femina
43. Grizzly Bear - Painted Ruins
44. Ariel Pink - Dedicated To Bobby Jameson
45. Four Tet - New Energy
46. Wolf Alice - Visions Of A Life
47. Sharon Jones & The Dap-Kings - Soul Of A Woman
48. Andrew Weatherall - Qualia
49. Arcade Fire - Everything Now
50. The Weather Station - The Weather Station




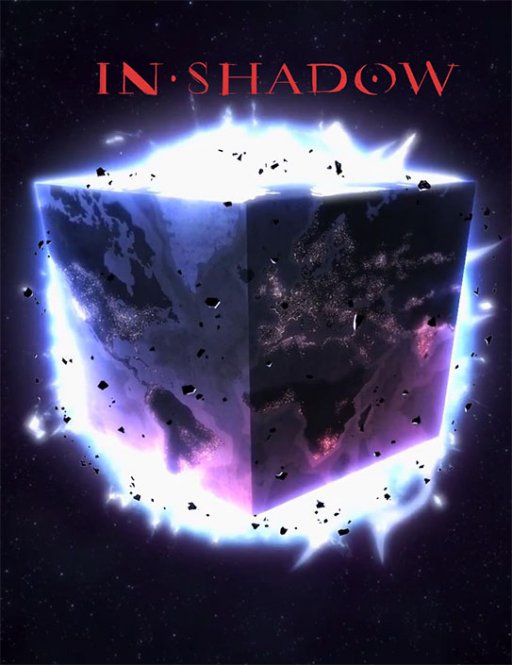













:format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/R-1701850-1253886547.jpeg.jpg)







